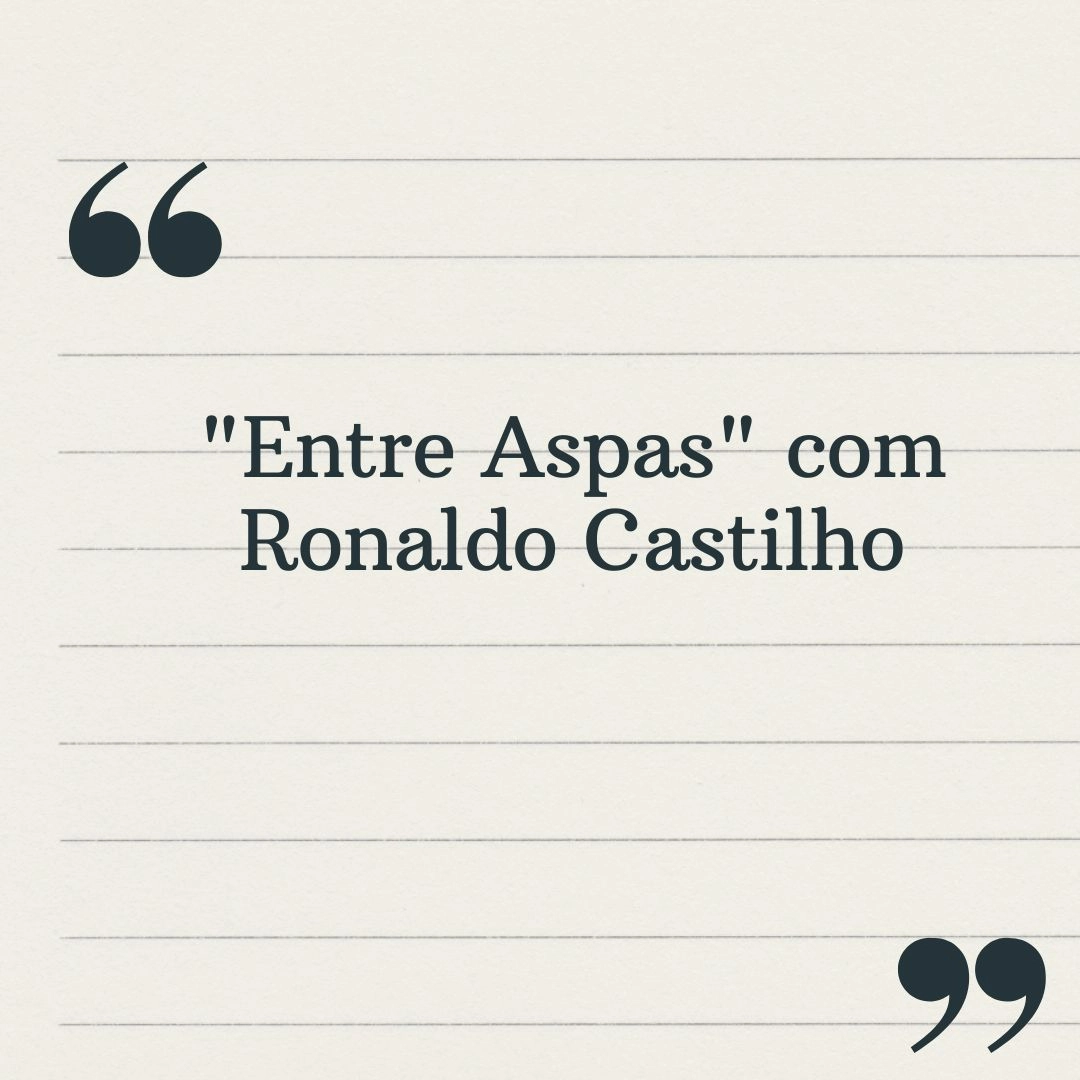Antropologia urbana nas metrópoles brasileiras
Ronaldo Castilho
A vida urbana no Brasil sempre foi marcada por intensas contradições sociais, culturais e políticas. A antropologia urbana, como campo de estudo, busca compreender justamente esses aspectos, analisando como as pessoas constroem, vivem e ressignificam os espaços das cidades. Desde os primeiros estudos urbanos no Brasil, os pensadores têm apontado para os modos como os sujeitos ocupam as metrópoles e como essas dinâmicas expressam sentidos culturais profundos e, muitas vezes, invisibilizados pela lógica hegemônica do progresso e da modernidade.
Gilberto Freyre, ainda nos anos 1930, já chamava atenção para a importância da cultura doméstica e das relações interpessoais como elementos constitutivos do espaço urbano. Em Casa-Grande & Senzala, embora focado no contexto rural, Freyre abriu caminho para uma visão antropológica que considera os modos de vida e os traços culturais como centrais na compreensão da sociedade brasileira. Mais tarde, pensadores como Roberto DaMatta aprofundariam essa leitura ao tratar das dualidades do Brasil urbano: o público e o privado, a rua e a casa, o formal e o informal. DaMatta, em O que faz o Brasil, Brasil? aponta para a tensão constante entre a institucionalização das normas e a prevalência de uma sociabilidade marcada pela pessoalidade, traço que se manifesta fortemente no cotidiano das cidades.
Nas últimas décadas do século XX, a antropologia urbana passou a considerar com mais ênfase as transformações provocadas pela urbanização acelerada, pela migração interna e pela globalização. Ruth Cardoso foi uma das intelectuais que olharam para as redes de sociabilidade nos bairros periféricos como formas legítimas de organização e produção cultural. Para ela, o "mundo da periferia" não era um simples reflexo da exclusão social, mas um campo dinâmico de resistência, criação e solidariedade. Essa visão se articula com os estudos de Hermano Vianna, que nas décadas de 1990 e 2000 mostrou como o funk carioca, nascido nas favelas do Rio de Janeiro, expressa os desejos, os conflitos e as visões de mundo da juventude urbana marginalizada, sendo uma forma legítima de cultura urbana.
Com a intensificação das desigualdades sociais, o crescimento das favelas e a gentrificação dos centros urbanos, a antropologia urbana contemporânea tem se voltado cada vez mais para a ideia de “direito à cidade”, conforme proposto por Henri Lefebvre e reinterpretado por autores brasileiros. Teresa Caldeira, por exemplo, analisa como os muros, grades e condomínios fechados nas cidades brasileiras expressam uma cultura do medo e da separação, onde os sentidos culturais são fragmentados e apropriados seletivamente. A cidade torna-se palco de disputas simbólicas, onde diferentes grupos lutam por visibilidade, mobilidade e reconhecimento.
Nesse contexto, Néstor García Canclini traz uma importante contribuição ao discutir como as culturas urbanas latino-americanas se formam na interseção entre o tradicional e o moderno, entre o local e o global. Para Canclini, a cidade é um espaço híbrido, onde as práticas culturais não podem ser compreendidas a partir de dicotomias simples, mas sim como produtos de interações complexas entre diferentes temporalidades e influências. Seu conceito de hibridismo cultural ajuda a compreender as expressões urbanas que nascem do cruzamento entre a cultura de massa, as tradições populares e as novas tecnologias de comunicação.
Outro nome fundamental é o de Raquel Rolnik, urbanista e pesquisadora que tem se dedicado a analisar os impactos das políticas habitacionais, da especulação imobiliária e dos processos de segregação urbana no Brasil. Para Rolnik, a luta pelo direito à cidade envolve não apenas o acesso à moradia digna, mas também a garantia de permanência nos territórios onde as populações constroem suas vidas e identidades. Ela denuncia como as políticas urbanas frequentemente ignoram as formas populares de habitar, favorecendo lógicas mercadológicas que intensificam as exclusões e aprofundam a desigualdade social.
Em um país marcado por um urbanismo excludente, os sentidos culturais que emergem nas metrópoles são formas de narrar a cidade a partir das margens. Os grafites, os slams, as ocupações culturais e as manifestações religiosas nas ruas são mais que expressões estéticas: são atos políticos que reivindicam o pertencimento. A antropologia urbana, ao valorizar essas expressões, rompe com a visão elitista e eurocêntrica de cidade, propondo uma escuta atenta das vozes que brotam do asfalto, das vielas e das calçadas.
Portanto, pensar as metrópoles brasileiras por meio da antropologia urbana é perceber que a cidade não é apenas um espaço físico, mas um território de significados. É reconhecer que os sentidos culturais não estão apenas nas instituições formais ou nas obras monumentais, mas também nas práticas cotidianas, nas festas de rua, nos mercados populares e nas redes de afeto. Em tempos de avanços tecnológicos e retrocessos sociais, a antropologia urbana continua sendo uma lente indispensável para compreender a alma complexa, contraditória e profundamente humana das cidades brasileiras.
Além disso, as resistências urbanas têm se reinventado com o uso de novas tecnologias e redes digitais, que possibilitam a articulação de movimentos sociais em escala local e global. Iniciativas como os coletivos de mídia independente, as campanhas por moradia digna e os movimentos de ocupação de espaços ociosos revelam uma cidade viva, em constante disputa por narrativas e sentidos. A antropologia urbana, ao observar essas práticas, reconhece que a cidade é também um espaço de insurgência — onde moradores, artistas, trabalhadores e ativistas desafiam as normas instituídas e criam alternativas para viver com dignidade e identidade. Essas ações não apenas questionam a ordem urbana estabelecida, mas também propõem outras formas de existência e convivência, mais plurais e menos hierarquizadas.
Nesse cenário, torna-se fundamental repensar as políticas públicas urbanas a partir de uma escuta atenta aos saberes populares e às práticas cotidianas dos moradores das periferias. Muitas vezes, os planejamentos urbanos ignoram as realidades dos territórios populares, impondo modelos de desenvolvimento que não dialogam com as necessidades reais da população. A antropologia urbana propõe justamente o contrário: compreender os territórios a partir de suas dinâmicas internas, respeitando as formas próprias de organização social, cultural e afetiva. Nesse sentido, o campo antropológico pode colaborar com urbanistas, gestores públicos e movimentos sociais na construção de cidades mais justas, acessíveis e inclusivas — onde a pluralidade de vozes seja não apenas reconhecida, mas valorizada como parte essencial da vida urbana.
Ronaldo Castilho é jornalista, bacharel em Teologia e Ciência Política, com MBA em Gestão Pública com Ênfase em Cidades Inteligentes e pós-graduação em Jornalismo Digital.