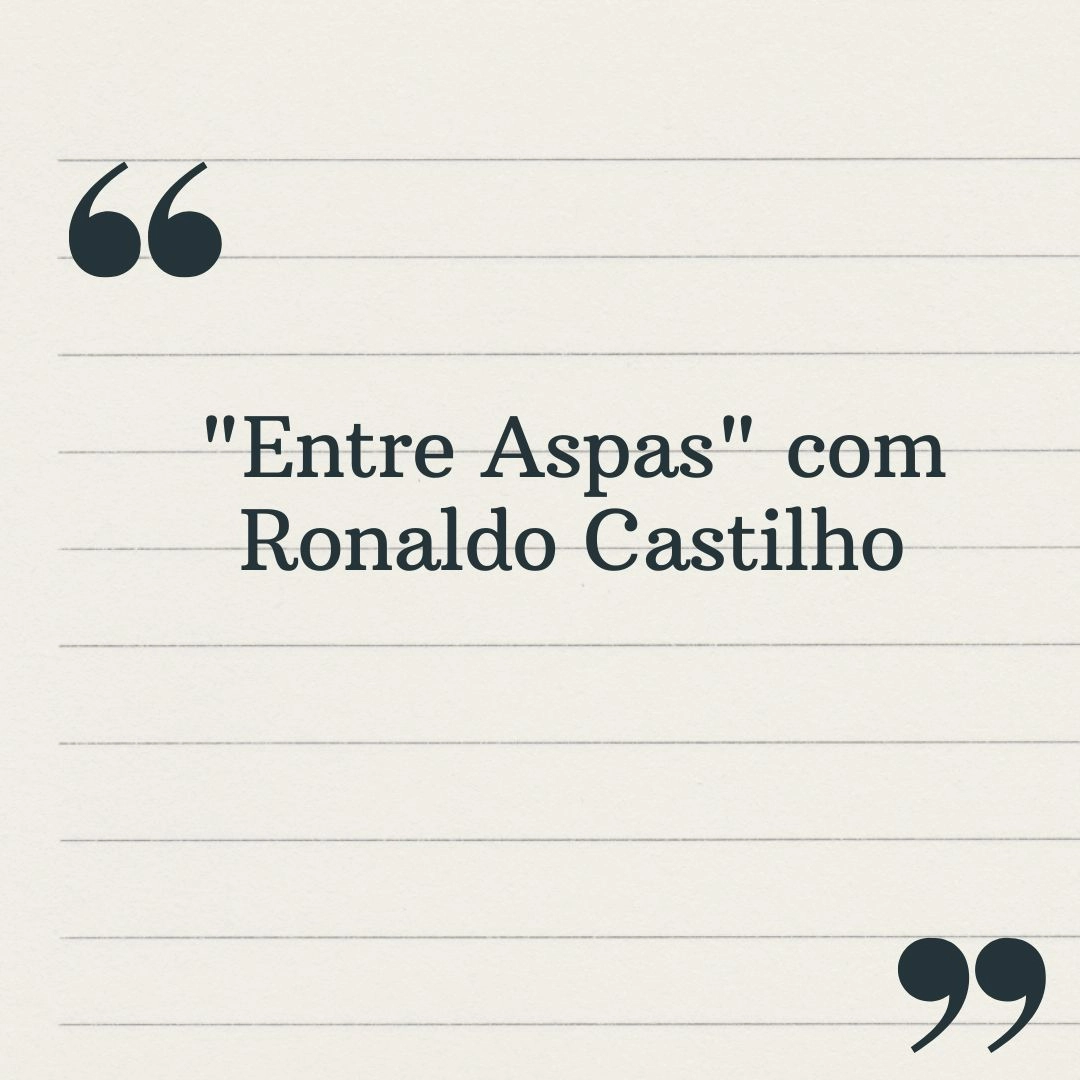Além do voto: o clamor por uma democracia mais participativa
Ronaldo Castilho
A democracia é, sem dúvida, uma das maiores conquistas políticas da humanidade, mas seu significado e aplicação prática têm variado ao longo do tempo. No cerne desse debate, dois modelos se destacam: a democracia representativa e a participativa. Embora ambos busquem garantir a soberania popular, suas formas de operacionalização do poder divergem, gerando discussões entre pensadores desde a Grécia Antiga até os teóricos contemporâneos.
Na democracia representativa, os cidadãos elegem representantes para tomar decisões em seu nome. Esse modelo, predominante em grande parte do mundo moderno, tem raízes no pensamento iluminista, especialmente nas ideias de John Locke e Montesquieu. Para Locke, o consentimento dos governados era essencial, mas ele via a representação como uma forma prática de assegurar os direitos naturais dos indivíduos, como a vida, a liberdade e a propriedade. Montesquieu, por sua vez, ao teorizar sobre a separação dos poderes, contribuiu para a estrutura institucional da democracia representativa, enxergando no Parlamento um espaço de contenção e equilíbrio entre as vontades populares e a autoridade governamental.
No entanto, o ideal democrático em sua origem remonta à Grécia Antiga, onde, em Atenas, a democracia era essencialmente participativa. Os cidadãos (limitados, é verdade, a uma elite masculina) decidiam diretamente nos assuntos públicos. Platão, contudo, foi um dos primeiros críticos dessa forma de governo. Para ele, a democracia direta levava à instabilidade, pois o governo das massas ignorava a racionalidade e a virtude filosófica, cedendo ao populismo e à manipulação. Aristóteles, mais moderado, via a democracia como uma forma legítima de governo popular, embora inferior à politeia — uma mescla de oligarquia e democracia — por sua capacidade de balancear os interesses das classes sociais.
Com o advento das revoluções liberais e a consolidação dos Estados modernos, tornou-se inviável a prática da democracia direta em sociedades numerosas e complexas. Assim, a democracia representativa foi adotada como solução prática. Jean-Jacques Rousseau, embora defensor da soberania popular, criticou a representação, afirmando que “o povo inglês só é livre no momento da eleição dos membros do Parlamento; depois disso, é escravo”. Rousseau acreditava que a vontade geral não poderia ser delegada, e que a verdadeira liberdade só existiria quando o povo legisla diretamente. Sua visão, embora idealista, inspira as modernas concepções de democracia participativa.
No século XX, teóricos como Jürgen Habermas resgataram a importância do debate público e da participação cidadã como mecanismos de legitimação democrática. Para Habermas, uma democracia verdadeiramente legítima deve garantir a deliberação racional dos cidadãos, não apenas a delegação periódica do poder. Em uma linha próxima, pensadores como Carole Pateman defenderam a participação cidadã não como um adorno da democracia, mas como um elemento transformador, capaz de formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com o bem comum.
Hannah Arendt, por sua vez, via a política como o espaço por excelência da liberdade humana, onde o cidadão aparece como sujeito ativo da vida pública. Para ela, a participação direta era essencial para preservar o espírito da democracia, que corria o risco de se perder em sistemas excessivamente burocratizados. Arendt criticava a alienação dos indivíduos nas democracias modernas e via na ação coletiva e na deliberação pública o verdadeiro motor da vida política.
Norberto Bobbio, importante teórico do Estado democrático de direito, fez uma defesa lúcida da democracia representativa, ressaltando que ela não deve ser confundida com democracia plena. Para Bobbio, a democracia moderna é um ideal regulador em constante aperfeiçoamento, e deve ser medida pela transparência, pluralismo, alternância de poder e efetiva participação. Ele não via contradição entre representação e participação, mas sim uma complementaridade que exige constante vigilância e aprimoramento institucional.
Cornelius Castoriadis trouxe à discussão uma crítica radical à democracia meramente formal. Para ele, a verdadeira democracia não é apenas um sistema de regras, mas um projeto coletivo de autonomia, no qual os cidadãos participam ativamente da criação das leis que os regem. A democracia, segundo Castoriadis, é o regime em que a sociedade se institui a si mesma. Portanto, qualquer forma de delegação que anule a autodeterminação dos indivíduos torna-se uma caricatura democrática.
Na prática, a democracia participativa tem se manifestado em experiências como os orçamentos participativos, conselhos comunitários e consultas populares, que aproximam o cidadão das decisões cotidianas. No entanto, muitos críticos, como Joseph Schumpeter, defendem que a complexidade das sociedades modernas exige a mediação técnica e política dos representantes. Para ele, a democracia seria apenas o método pelo qual o povo escolhe seus líderes, sendo irrealista esperar que o cidadão comum participe ativamente de todos os processos decisórios.
Assim, o debate entre democracia representativa e participativa permanece vivo e relevante. A representatividade garante governabilidade e estabilidade institucional, mas corre o risco de se afastar do povo, tornando-se uma democracia apenas formal. Já a participação direta fortalece a cidadania, mas enfrenta os limites da praticidade e da fragmentação das vontades. Talvez o caminho mais promissor esteja em combinar ambos os modelos, fortalecendo mecanismos de controle social, deliberação pública e participação contínua, sem abrir mão da eficiência institucional. Afinal, como nos alertava Tocqueville, a democracia é um processo em construção constante, que precisa ser protegido não apenas por leis, mas pela vigilância ativa dos cidadãos.
Ronaldo Castilho é jornalista, bacharel em Teologia e Ciência Política, com MBA em Gestão Pública com Ênfase em Cidades Inteligentes e pós-graduação em Jornalismo Digital.