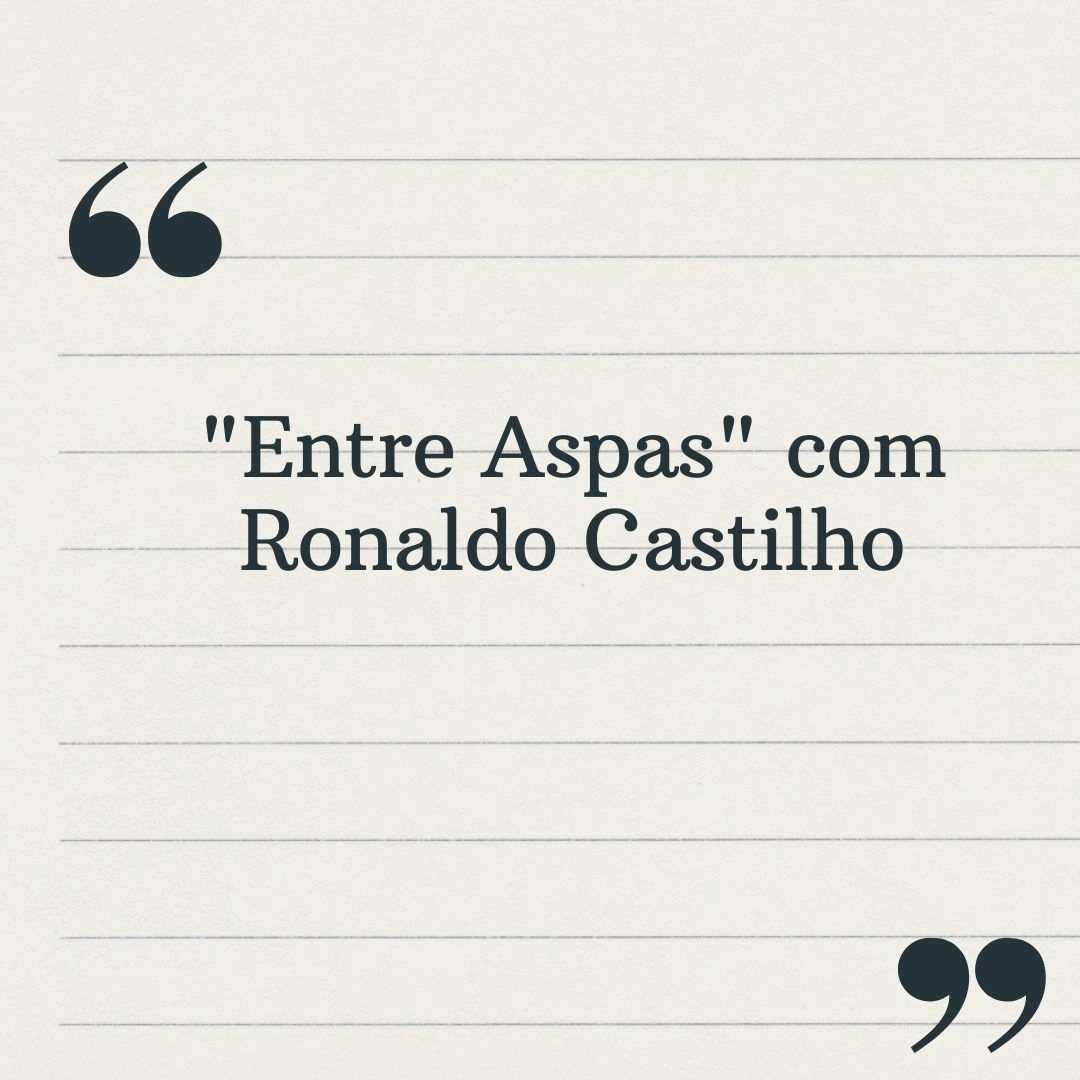Presidencialismo, parlamentarismo e judicialismo: a disputa pelo centro do poder
Ronaldo Castilho
Ao longo da história política moderna, as nações têm optado por diferentes modelos de organização do poder, buscando equilibrar representatividade, eficiência e estabilidade institucional. Entre os sistemas mais discutidos, destacam-se o presidencialismo, o parlamentarismo e, mais recentemente, o chamado “judicialismo”, termo que, embora não seja clássico nas ciências políticas, vem sendo usado para descrever o protagonismo do Judiciário em decisões que impactam diretamente a condução do país. Cada modelo possui características próprias, vantagens e fragilidades, e o debate sobre qual seria mais adequado ao Brasil permanece vivo desde a redemocratização.
O presidencialismo, adotado pelo Brasil desde a Proclamação da República, concentra no chefe do Executivo — eleito diretamente pelo povo — a função de chefe de Estado e de governo, com mandato fixo e separação nítida entre os Poderes. Sua lógica se baseia na estabilidade de mandatos e na independência de atuação entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Alexis de Tocqueville, ao analisar a experiência norte-americana, destacou que o presidencialismo é eficaz em sociedades com instituições sólidas e cultura política estável, mas tende à paralisia quando há polarização extrema, como se vê hoje no Brasil, onde o Executivo enfrenta frequente bloqueio legislativo e judicial.
Já o parlamentarismo, adotado por países como Reino Unido, Canadá e Austrália, une as funções de chefe de governo e liderança legislativa na figura do primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento e pode ser substituído a qualquer momento por voto de desconfiança. O chefe de Estado, geralmente um monarca ou presidente de funções protocolares, garante a continuidade institucional. Montesquieu, defensor da separação de poderes, via no parlamentarismo uma forma mais fluida e responsiva de governo, pois a queda de um gabinete não significa crise sistêmica, mas sim ajuste político. No Brasil, o modelo foi testado brevemente em 1961-63, mas rejeitado em plebiscito, num contexto de baixa maturidade democrática e instabilidade política.
O “judicialismo” não é um sistema formal, mas uma distorção contemporânea percebida por diversos analistas, como o jurista Lênio Streck, que alerta para o ativismo judicial excessivo. Nele, o Judiciário — especialmente as cortes superiores — assume protagonismo em decisões que, em tese, caberiam ao Legislativo ou Executivo, tornando-se árbitro frequente de disputas políticas. Se, por um lado, isso pode servir como freio a abusos de poder e proteção a direitos fundamentais, por outro, levanta questionamentos sobre legitimidade democrática, já que juízes não são eleitos pelo povo.
Hoje, o Brasil vive um presidencialismo de coalizão enfraquecido, em que o presidente precisa costurar apoio de uma base parlamentar fragmentada e sujeita a barganhas permanentes. O Legislativo, por sua vez, exerce crescente poder orçamentário, enquanto o Judiciário intervém em pautas que vão da política ambiental à definição de regras eleitorais, criando uma sobreposição de funções que confunde os limites constitucionais. Em meio a essa tensão, a sensação para o cidadão comum é de que ninguém governa plenamente, e de que as decisões mais relevantes estão mais nas mãos de ministros do Supremo do que do Executivo eleito.
O pensador norueguês Stein Rokkan, ao estudar sistemas políticos, ressaltou que a legitimidade de qualquer forma de governo depende não apenas da arquitetura institucional, mas da confiança recíproca entre governantes e governados. No caso brasileiro, a crise atual não se deve apenas ao modelo, mas também à degradação dessa confiança, ao enfraquecimento de partidos e à hipertrofia de poderes que não dialogam entre si. Discutir a mudança para o parlamentarismo ou frear o “judicialismo” sem enfrentar esses problemas estruturais seria trocar o rótulo sem alterar o conteúdo.
Vale lembrar que teóricos como Giovanni Sartori enfatizam que a eficácia de um sistema de governo depende menos da sua forma e mais da sua adaptação ao contexto cultural e institucional do país. Sartori alertava para o risco de importar modelos de forma acrítica, sem considerar as características históricas e sociais locais. No caso do Brasil, a fragmentação partidária, o personalismo político e a baixa accountability dificultam a aplicação plena de qualquer sistema, pois minam a coerência das políticas públicas e a previsibilidade governamental.
Outro aspecto relevante é que, em contextos de presidencialismo frágil, como o brasileiro, a tentação do ativismo judicial aumenta. Hannah Arendt lembrava que, em momentos de crise, instituições tendem a ocupar espaços deixados vagos pelo enfraquecimento de outros poderes, o que gera um efeito cascata: o Judiciário se fortalece não por desenho institucional, mas pela omissão ou incapacidade do Executivo e Legislativo. Essa lógica contribui para o “judicialismo” contemporâneo, que corrói gradativamente o equilíbrio entre os poderes.
Também é necessário reconhecer que, embora o parlamentarismo seja mais flexível e evite longos períodos de governos impopulares, ele exige partidos sólidos e coesos — algo raro na política brasileira. Sem essa base, um regime parlamentar tenderia à instabilidade crônica, com trocas constantes de primeiros-ministros e alianças frágeis, como ocorre em alguns países com sistemas multipartidários fragmentados. Isso poderia paralisar ainda mais o país, agravando a insegurança institucional.
O debate, portanto, não deve se limitar a escolher um modelo idealizado, mas sim a criar mecanismos de governabilidade e responsabilidade política. Isso envolve reforma do sistema partidário, fortalecimento da cultura democrática e delimitação clara das competências dos poderes. Como diria Rui Barbosa, “a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer”. A lição permanece atual: não é o sistema, isoladamente, que salva uma democracia, mas a cultura política e o respeito aos limites do próprio poder.
Ronaldo Castilho é jornalista, bacharel em Teologia e Ciência Política, com MBA em Gestão Pública com Ênfase em Cidades Inteligentes e pós-graduação em Jornalismo Digital.